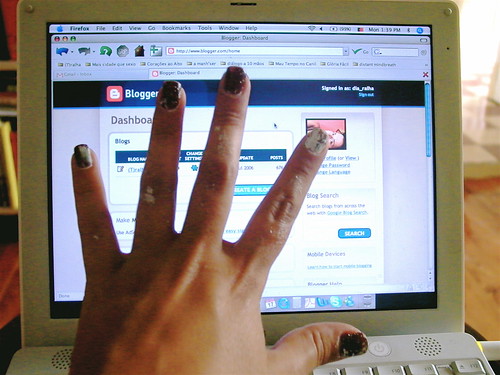Se eu fosse o principezinho neste deserto, talvez tu sejas a minha raposinha amiga.
O avô Leopoldo, eu não sei o que ele fazia – imagino-o bacharel, de boas famílias, com um cargo relevante no ministério das Finanças.
O avô Leopoldo, bom, se calhar nem se chamava Leopoldo e eu já estou a baralhar os avós todos do Miguel. É que eles são mais que as tias, mas assim é que deve ser, e o Natal em casa da avó Nela faz mais sentido, não são quatro gatos pintados como na Estados Unidos da América: casa de 300 metros quadrados irrepreensivelmente decorada pela Gracinha Viterbo – pessoalmente, gosto dos dálmatas de porcelana da sala de jantar e do papel de parede com flamingos da casa de banho das visitas –, cheia de filhos, netos e bisnetos, todos a falarem uns por cima dos outros, gargalhadas altas, cinismos vários, e claro que há discussões, e copos a mais, ovelhas negras, favoritos e preteridos, e dizem-se, inclusive, caralhadas à frente da Nelita, coisa que eu acho mal, porque é uma senhora octogenária distinta e elegante, com o mesmo penteado ripado e armado com a ajuda de laca Elnette há trinta anos, uma senhora que admiro porque não hesitou em casar-se com o seu padrinho de baptismo, quarenta anos mais velho e seu primo direito, porque o amor não tem idade, e ainda hoje, a Nelita chora todos os dias pelo marido, esse sim, é que se calhar se chamava Leopoldo e não o outro, aquela família tem lindas histórias de amor, e é graças à avó Nela que a minha Carolina, bisneta de adopção, conseguiu vaga no colégio finório que eu não terei hipótese de pagar nos próximos dez anos com a miséria que me pagam, passando, de mansinho, a factura à senhora minha mãe.
A meio da história, eu sei que o avô Leopoldo esteve em África, mas não estou certa que tenha sido em Moçambique – se calhar, foi Angola e eu não sei nada desta história, realmente. No Verão, passavam férias na Figueira e decerto que se cruzaram com os meus avós e a minha mãe pré-adolescente muito desengonçada, com pernas de Bambi, ou no casino ou na praia. Só sei, com certeza que, nos tempos livres, o avô Leopoldo, ou como raio é que o senhor se chamava (tentei ligar para o Dubai a confirmar a graça do senhor, mas não consegui a ligação), filmava pequenos enredos complexos por si escritos e, quando não estava nisso, de câmara de oito milímetros em punho a captar uma realidade por si imaginada, pegava num lápis sépia alaranjado e desenhava caras de palhaços ricos e de palhaços pobres sobre papel de aguarela, e que levava perfeitos estranhos andrajosos, mendigos, pedintes, às dúzias, e depois, mandava as criadas servirem o jantar com a melhor porcelana e com os talheres de prata.
Há pessoas cujos apelidos moldam, à partida, toda a sua existência. Sei do que falo. Leopoldo, tal como eu, tinha a mesma sina, estava predestinado desde o assento de nascimento. Leopoldo era Garrido. Eu sou Ralha.
Nunca se deu mal. Nunca me contaram um episódio em que a generosidade de Leopoldo tenha sido posta em causa, que o tiro tenha saído pela culatra. Sim, era louco.
A Raquel, que agora é Briz, mas devia ter continuado Garrido, porque lhe assenta como uma luva nas mãos rechonchudas, é uma grande contadora de histórias, sobretudo as que metem ruídos corporais desagradáveis e de que ninguém fala, apesar de todos, sem excepção, os emitirem. Recorda, muitas vezes, noites de Consoada à mesa com pedintes de Lisboa, e também o dia em que Leopoldo a encontrou a ela, pequeno diabrete loiro, pela mão da sua mãe que parecia uma estrela de Hollywood dos anos 50, algures pelo Chiado, e não as reconheceu, tendo, porém, cumprimentado gentilmente. Chegou a casa, algumas horas depois, sem nenhum vagabundo a seu lado, e desabafou, à mesa, que tinha encontrado uma senhora muito bonita com a filha, mas que não fazia ideia quem seriam.
Esta família adoptou-me, eu nem hesitei, e as suas histórias são, também, minhas. Um dia quero ser como eles, quero ter um casamento de trinta anos e ainda beijar o meu marido em frente aos filhos, primos, cunhadas e sogras, e aprender a fazer uma família feliz (eu sei que dá trabalho).
Por enquanto, vou sendo como o avô Leopoldo (mais uma vez, relembro que este nome está sujeito a confirmação; tenho quase a certeza que está errado), dando a mão aos estranhos que me entram pelo blogue e pela vida a dentro, sem medo que me mordam a mão como cães raivosos e ingratos, é que há tanta gente bonita por aí, principezinhos e fadinhas, e nunca deixei de parar para perguntar se podia ajudar quando vi mulheres a chorarem nos seus carros, parados no semáforo encarnado das Forças Armadas, e no Metro também já aconteceu, isto sem falar das velhinhas abandonadas à soleira das portas, nos cafés e nos salões de cabeleireiro de bairro, a quem ouvi todas as memórias, alegrias tristezas e queixumes dos ossos – como é possível alguém ficar indiferente? Eu já chorei em toda a parte e ninguém me deu sequer um lenço da Renova para eu me assoar? Sou eu que estou mal? Sou eu que sou doida, ou, no mínimo, excêntrica?
Perde-se muito, nem sabem quanto, os que têm medo dos estranhos. Vou fazendo de fada madrinha, de raposa de principezinhos perdidos no deserto, e vou ser assim para o resto dos dias, a convidar estranhos, perfeitos estranhos para virem a Santa Marta comer pataniscas de bacalhau no meu serviço arabesco de dez euros no Carrefour, e só espero nunca deixar de reconhecer o João e a Carolina na rua.